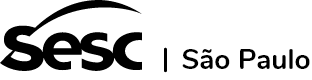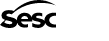

Por Pedro Strazza
Quando se fala de cinema japonês, convenciona-se dividir a história do país em três fases maiores e amplas, todas ligadas ao circuito de festivais. Há primeiro a era de ouro do sistema de estúdios, quando a produção fordista do grupo formado pela Toei, a Daei, a Nikkatsu e a Shochiku nos anos 1950 foi descoberta internacionalmente e permitiu o estabelecimento de nomes como Akira Kurosawa, Yasujirô Ozu, Mikio Naruse e Kenji Mizoguchi.
Depois, vem a nouvelle vague japonesa nos 1960 e 1970, época de contestação imediata, de ordem política e com inspiração nos franceses, que solidificou as carreiras de gente como Nagisa Oshima, Shohei Imamura e Seijun Suzuki. Tudo entre idas e vindas com os estúdios locais, que entram em crise própria nessa época.
Por fim, vem a redescoberta artística a partir dos anos 1990, com diretores do porte de Takeshi Kitano, Naomi Kawase, Hirokazu Kore-eda, Takashi Miike e Kiyoshi Kurosawa liderando uma nova forma de entendimento da produção nacional nos festivais mais nobres. Tudo feito a partir da retomada simbólica de gêneros tradicionais, como o drama e o filme de Yakuza, ou da revelação de vertentes pouco exploradas, como o cinema experimental e o horror. Desde então, são esses mesmos nomes que circulam como as referências vigentes no campo internacional, com a irregularidade no ritmo de produção se adequando ao passo de circuitos como de Cannes, Berlim e Veneza e sendo enquadrada no campo maior do “cinema asiático”, onde passa a perder espaço para a produção de países mais efervescentes como a China e (principalmente) a Coréia do Sul.
É importante relacionar esse mapeamento histórico com Ryusuke Hamaguchi não apenas porque o diretor faz parte da trajetória do país na arte, mas por revelar o quanto o cineasta se difere de todas essas “ondas” mais genéricas da produção nacional. Enquanto é natural presumir que Hamaguchi não esteja alinhado com os conformes da era de ouro ou da nouvelle vague por razões temporais óbvias, também denota-se o quanto seus filmes já não se identificam com os de nomes como Kitano e Kore-eda, nomes que renovaram os sentidos de gêneros específicos, ou de Kawase e Kurosawa, que ampliaram as possibilidades de entendimento do público com o cinema do país.
Claro que há uma distância geracional envolvida neste cálculo que ajuda a desenhar essa separação – nascido em 1978, ele é o nome mais novo deste grupo – mas o conjunto de referências destiladas nos filmes de Hamaguchi denota bem o quanto sua formação se difere dos outros. Há uma recorrência muito grande de cinefilia nos trabalhos do diretor, que teve Kiyoshi Kurosawa como professor na graduação e verbaliza em diversas entrevistas sua referência maior em diretores como John Cassavetes e Éric Rohmer. Seu primeiro longa-metragem é literalmente um remake de “Solaris”, não por acaso, feito ainda na faculdade e inspirado no filme de Andrei Tarkovski ao invés do livro de origem. Hamaguchi, aliás, é também um dos roteiristas de “A Mulher de um Espião”, suspense de época de Kurosawa que deriva certa influência de Mizoguchi no trato do melodrama pela ótica da mulher.

Essa influência também afeta a própria forma como o diretor conduz seus filmes. Ainda que seja adepto de certa improvisação e do uso de atores amadores – caso de “Happy Hour”, primeiro trabalho a exportá-lo aos principais festivais – uma das principais metodologias de Hamaguchi é realizar workshops com seus elencos com foco específico na lenta leitura de falas até que todos saibam o conteúdo completo do roteiro e possam se dedicar à encenação. Além dessa prática ter sido incorporada na narrativa de “Drive My Car”, seu projeto de maior relevância até o momento, o diretor já confirmou em entrevistas que aprendeu esse trabalho enquanto assistia um documentário sobre Jean Renoir.
Outro fator crucial do cinema de Hamaguchi que deriva de referências cinematográficas é a recorrência do uso de coincidências nas histórias, algo que ele também já confirmou em entrevistas vir da admiração por Rohmer. “Ele me ensinou com seus filmes que coincidência permite a você adicionar risco às narrativas” declara o cineasta durante uma conversa com o Slant em outubro do ano passado; “Eu acredito que esses riscos permitem a entrada da emoção – e que algo emocionante aconteça também”.
Os últimos três filmes de Hamaguchi refletem a importância desse uso no curso narrativo, bem como cristalizam essas referências dentro de um novo cinema que se adequa às urgências emocionais dos tempos de hoje.

Lançado em 2018, “Asako I & II” trata da jornada de uma jovem mulher que, após passar por um término doloroso, se apaixona por um homem exatamente igual ao antigo amante dois anos depois. Já “Roda do Destino”, debutado no Festival de Berlim de 2021, brinca com três contos envolvendo acasos e pequenos acidentes que disparam memórias e dores emocionais guardadas de seus personagens, incluindo uma moça que vê a amiga se apaixonar por seu amado e duas estranhas que confundem a identidade uma da outra com a de conhecidos com tensões não resolvidas. “Drive My Car”, por fim, parte do texto de Haruki Murakami para investigar o trauma não resolvido de um ator que descobre o caso da esposa poucos dias antes dela morrer subitamente.
Em todos, há ainda a presença de um último elemento que se faz crucial para as dinâmicas de Hamaguchi: o tratamento das relações pela via de assombração. Considerando a relação próxima com Kurosawa, percebe-se bem como essa abordagem é uma variação com pernas próprias daquilo que o último pratica até hoje, derivado e manifestado com maior fisicalidade por sua presença no horror. Hamaguchi, por sua vez, é um homem mais interessado no melodrama, então o espectro é tratado como uma assombração emocional que move todo o drama, em especial no trauma manifestado como dilemas não resolvidos. Nos filmes de Hamaguchi, o problema sempre é seguir em frente.
Utilizamos cookies essenciais, de acordo com a nossa Política de Privacidade, para personalizar e aprimorar sua experiência neste site. Ao continuar navegando, você concorda com estas condições.